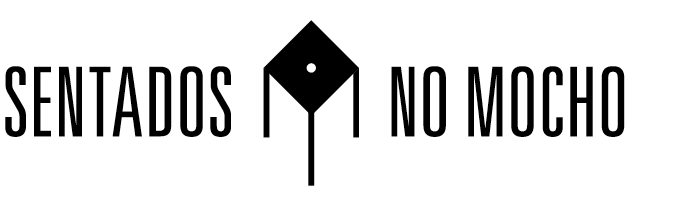Eduardo Gageiro
Fotojornalista
Podia ter sido empregado de escritório, mas preferiu mudar o mundo através da sua lente. Quebrou barreiras militares para fotografar a revolução mais marcante da nossa história, registou o atentado aos Jogos Olímpicos em primeira mão e recebeu prémios em todo o mundo. Sempre acompanhado pela sua máquina, Eduardo Gageiro diz que o segredo é “sentir o que se está a fazer”.
Como surgiu na sua vida o gosto pela fotografia?
Eu nasci em frente da Fábrica de Loiça de Sacavém. O meu pai tinha um pequeno estabelecimento onde os operários iam. Deixavam de manhã umas pequenas marmitas para a minha mãe aquecer e consumiam a bebida. Desde muito jovem contactei com essas pessoas. Na altura andavam descalças, a maioria, e aquilo chocou-me. Eu tinha uma máquina pequena de plástico, do meu irmão, e comecei a fotografar as redes operárias. Tirei a instrução primária e pedi ao meu pai para ir para o liceu. Para minha grande deceção, ele disse-me: «Qual quê! O teu futuro é na Fábrica de Loiça, vais para lá para empregado de escritório». Fiquei tristíssimo. Havia um grupo de jovens, que já andava no liceu, com que eu comecei a dar-me muito e que começaram a emprestar-me livros e, de certo modo, a mostrar-me o que havia no mundo. Criei dentro de mim alguma revolta, achava que queria mudar o mundo e pensei que a melhor maneira era ser fotojornalista. Na altura, dizia-se ‘fotógrafo dos jornais’. Entretanto, comecei a conviver mais intensamente com os operários e também – e também isso teve uma grande influência – com grandes artistas da fábrica, pintores, escultores…
E o início do fotojornalismo?
Comecei a pedir máquinas emprestadas e comecei logo a fotografar de outra maneira. Além do conteúdo, que diziam que eu tinha jeito, a parte estética começou imediatamente a ser diferente. Então Armando Mesquita, escultor que me foi ensinando arte e composição, disse: «É pá, isto não está bem! O teu pai tem de te comprar uma máquina». E um dia, sem eu saber, aparece lá na hora do almoço: «Então, senhor Gageiro, o teu rapaz anda aí a fotografar com máquinas emprestadas?». Era o senhor Armando Mesquita, que era uma pessoa muito considerada… E lá fui eu à loja. Eu era um miúdo… ainda agora me comovo. Entretanto houve o primeiro concurso de fotografia dos empregados de escritório do distrito de Lisboa e pensei em concorrer. Tinha 16 anos. Ganhei logo três primeiros prémios. Então foi uma bola de neve. Mas eu queria ir para os jornais, pensando que ia mudar o mundo. Tento e não consigo. A determinada altura, um amigo convidou-me e lá estavam os grandes craques do jornalismo. Apresentou-me e eu fiquei deslumbrado, não conhecia aquela gente. Jorge Tavares Rodrigues, do Diário Ilustrado, disse-me: «Apareça lá amanhã e leve-me as fotografias» e eu levei. O meu pai queria bater-me porque eu tinha abandonado um emprego certo e tinha ido para os jornais. A minha mãe, coitadinha, disse-me: «Mas tu não tens necessidade de ser fotógrafo…». Era profundamente pejorativo ser fotógrafo.
Como foram esses tempos?
A minha grande evolução foi no suplemento literário do Diário Ilustrado, e, depois, no Século Ilustrado. Metade das capas do Século eram minhas e, na altura, era a bíblia. Lá começo eu a fotografar, entusiasmadíssimo. Mas havia uma máfia de fotógrafos instalados que não gostava de mim. Denunciaram-me. Fui preso, fui para Caxias. Entretanto veio o 25 de Abril. Foi o dia mais feliz da minha vida. Telefonaram-me de madrugada: «Vai para o Terreiro do Paço e leva todos os rolos que puderes». Tenho isto tudo gravado num livro que fiz chamado Liberdade.
De todas as fotografias que tem, há alguma pela qual sinta um carinho especial?
Há uma fotografia, que também me levou a ser preso. É uma mulher da Nazaré, uma viúva vestida de preto. Fiquei muito chocado quando vi aquilo. Senti que aquela senhora, já com uma certa idade, tinha de andar ali a puxar redes para sobreviver, e fiquei revoltadíssimo. Pus naquela fotografia o título de Calvário, e aquilo ganhava prémios onde ia. Quando me prenderam, estive dois anos sem poder concorrer.
“Pensei que através da imprensa
podia denunciar situações injustas”
Existe algum prémio que seja mais importante para si?
Há cinco anos recebi um convite para um concurso na China. Concorri a preto e branco com quatro fotografias. Qual não é o meu espanto quando recebo um convite para estar presente na entrega do prémio. Tinham concorrido 35 mil fotografias, de não sei quantos países, e eu tinha ganho a medalha de ouro, o prémio do melhor conjunto preto e branco e o prémio especial do júri. Fiquei deslumbrado… no fim de velhote, ainda ganho. Depois, convidaram-me para fazer uma exposição com 222 fotografias no Museu Mundial de Arte em Pequim. E então, é assim, posso morrer, mas morro feliz.
Como recorda o atentado aos Jogos Olímpicos?
Só fiz o embarque dos palestinianos com os israelitas, não fiz, ninguém fez, o massacre, que aconteceu no aeroporto. É uma longa história. Eu estava lá para fazer fotografias dos acontecimentos desportivos. Naquele dia, ninguém podia entrar, estava tudo bloqueado, só os atletas é que podiam entrar. Eu fui ficando, sou muito teimoso. Os meus colegas foram desistindo, desistindo, e eu ali, armado em teimoso. Não sabia o que estava a acontecer, mas vi tudo muito efervescente. Consigo entrar com atletas. Vejo dois árabes sentados no meio da escada. Estavam ali a controlar, com certeza. Subo a pé 16 andares até à delegação portuguesa. Não podia quase respirar. “Apaguem as luzes que eu quero ir para a janela”, e então apoiei os cotovelos na varanda. Flash era impensável, não é? Só com as luzes dos helicópteros, faço quatro ou cinco fotografias, velocidade lenta. Falo imediatamente com Lisboa e digo “o treinador de luta greco-romana vai regressar e leva o rolo, vão instruções no papel”. Depois fui para o centro de imprensa, disse o que tinha feito e as pessoas não acreditaram. A Associated Press tentou negociar: «250 contos, dá cá o rolo». “Não tenho o rolo”. Duzentos e cinquenta contos na altura era um Volkswagen, mas naquela noite não era muito importante o dinheiro. Eu estava tão entusiasmado, não pensei em dinheiro. Continuo a não ser materialista. Podia ter ganho 250 contos e depois mandava as fotografias para o Século, mas era desleal.
Qual o segredo para se conseguirem boas fotografias em momentos de tensão? A teimosia?
Eu acho que sim, e é preciso sentir o que se está a fazer. Eu costumo dizer que é preciso saber olhar, mas dentro de nós tem de haver… no meu caso… a vivência com os operários da fábrica. Isso reflete-se na nossa maneira de ser, na maneira de encarar a vida, na nossa maneira de fotografar.
As fotografias jornalísticas devem contar uma história?
Eu acho que sim. Acho fundamental uma pessoa estar bem documentada do que vai fazer. Não é fotografar como nos velhos tempos, em que os fotógrafos iam à redação ver os serviços que estavam marcados, iam ao armário buscar a máquina e iam disparar, entregavam o serviço e iam-se embora. Deixavam a máquina e no outro dia iam buscá-la outra vez. Quer dizer… isto não é nada!
Existe alguma pessoa que tenha gostado particularmente de ter fotografado?
Existe um livro chamado Revelações em que eu tinha de saber o máximo sobre cada fotografado e então propunha-lhes fazer um papel. Descobri coisas interessantes. Jorge Sampaio, por exemplo, percebe de música e fotografei como se fosse um maestro a dirigir uma orquestra. Esse livro tem fotografias muito giras, que as pessoas pensam que são fotomontagem e não são. Consegui pôr o Champalimaud com luvas de boxe e Eanes com uma lupa de relojoeiro, porque é um homem de rigor e precisão.
Já perdeu alguns momentos importantes por não ter a sua máquina por perto?
Não. Ando sempre com a máquina. O que não quer dizer que seja infalível…
Acha que o aparecimento da fotografia digital retirou magia à fotografia?
O digital tem uma vantagem… Por exemplo, quando estive nos Jogos Olímpicos, podia fazer fotografias com qualidade sem ser necessária impressão. Simplesmente perde-se o prazer de as relevarmos. Eu não percebo nada de computadores. Quando peço ao meu filho para fazer coisas sinto-me quase desligado, não sei… Uma pessoa revelar e depois fixar… é um prazer que nem queira saber.
Porque é que prefere as fotografias a preto e branco?
Porque são mais intensas, são mais reais. Acho que estão mais perto da realidade.
Porquê escolher o fotojornalismo para mudar o mundo?
Pensei que através da imprensa podia denunciar as situações injustas.
Vale o risco?
Se não houvesse imprensa, não seria nada. Viu, por exemplo, um polícia em Guimarães que deu uma tareia a um tipo? Numa situação daquelas simplesmente prendiam. Não precisavam de bater. É isso. Não me calo. Dizem-me: «Tu tens de ter cuidado…». Cuidado com o quê?! Não estamos num país democrático?! Acho péssimo a maioria das pessoas abster-se… Vão votar! Assim não podem protestar. Eu vejo pessoas de Sacavém, que têm uma reforma de miséria, a comprar três carapaus ou meio frango… e é de vez em quando! Como é?! Trabalharam toda a sua vida! E depois aparecem esses frangos de aviário que enriquecem num instante. Eu, como digo, não vejo partidos, mas as pessoas.
Gosta de ser fotografado ou prefere fotografar?
Detesto ser fotografado. Não é por ter a mania de ficar bem ou mal. Não gosto de ter uma máquina a fotografar-me.
Que conselhos deixa aos jovens que queiram seguir fotografia ou fotojornalismo?
Fundamentalmente, têm de ter paixão pela fotografia. Para mim, a fotografia é um instante, e fazer uma coisa que é um instante, que tenha conteúdo e seja bela, é muito difícil. Uma pessoa tem de prestar atenção às pequenas coisas e sentir o que vai acontecer.
Akadémicos 68 (28 de maio de 2015)
Entrevista por: Cristina Oliveira, Ângela Capela e Andreia Rosa