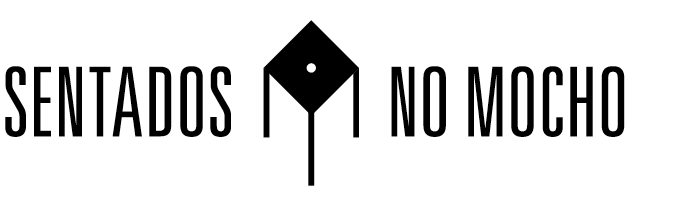Artur Agostinho
Comunicador
Comunicador dos sete ofícios, Artur Agostinho falou da sua última obra Ninguém morre duas vezes, dos 70 anos de carreira e do “adorável mentiroso” que é o público português. Gosta de se manter ativo e aponta o dedo a uma sociedade cada vez mais desumanizada.
O seu último livro Ninguém morre duas vezes é sobre droga nas escolas. Porquê este tema?
É um tema de grande atualidade e de grande preocupação para todos. É preferível abordar temas que possam ter alguma utilidade. O autor sente-se satisfeito consigo próprio por ter dado um contributo, embora pequeno, para que a sociedade possa compreender e atuar em face desses problemas.
O tema do livro é-lhe próximo?
Não. Mas conheço muitos casos de droga em jovens. Este livro obrigou-me a uma pesquisa grande. Para não cometer demasiados lapsos, apoiei-me muito em reportagens e em depoimentos de especialistas. Conversei com alguns arrumadores de automóveis e encontrei três grupos: uns metidos na droga; um arrumador que estava a tratar-se; e um terceiro que já tinha saído da droga e que dizia estar a viver uma vida inteiramente diferente. Foi na fusão destes três casos que me baseei para escrever o livro.
Porque decidiu enveredar pelos romances?
Já tive muitas atividades e, como os anos vão pesando, temos de ir gerindo a nossa vida profissional da melhor maneira. Escrever implica um esforço mental, faz com que os neurónios não parem e fisicamente não exige tanto esforço, como participar numa novela que obriga a gravações desde as oito da manhã até às oito da noite. Embora continue a poder fazer qualquer coisa em televisão, escrever dá uma certa tranquilidade física e uma certa atividade mental.
Quando começa um romance já sabe que final lhe vai dar?
Normalmente deixo correr os acontecimentos e envolvo-me com as figuras que criei. Descobri uma coisa espantosa na escrita: é que crio determinados personagens e, a certa altura, dou por mim a conviver com eles… Os personagens ganham forma, ganham vida. Discutíamos. Isto é uma coisa de loucos. Parece que o personagem se revoltava contra o discurso que estava a construir. O romance é uma coisa encantadora: dar vida às personagens, criá-las e depois permitir que elas discutam connosco.
Como é que começou a sua carreira de jornalista?
Já depois da rádio e do cinema. Um dia, à mesa do café, fui convidado por uns amigos para colaborar nos jornais, porque na rádio fazia muito humor e era amante de desporto. Comecei a fazer uma coluna n’A Bola com piada, eram pequenos tópicos que olhavam cinco ou seis problemas da semana. Depois fiz também entrevistas, reportagens. E regressei agora às colunas do Record com a rubrica “Fintas e Dribles”.
Já fez um pouco de tudo. Qual é a área que mais aprecia?
Todas. Geri a minha carreira com alternâncias e intensidades. Houve uma altura em que tinha a rádio, televisão, jornalismo, publicidade, cinema, e achava que era impossível manter-me numa situação confortável em termos de popularidade em todos ao mesmo tempo. De maneira que fui gerindo. Havia épocas em que gostava mais de ficar na televisão e deixava um pouco as coisas da rádio, depois, quando a televisão abrandava ligeiramente, voltava à publicidade. Ia diversificando a minha atividade. Tenho a noção de que saturamos as pessoas, sempre a aparecer todos os dias. O Herman, por exemplo, é o maior humorista português de sempre, tem espírito de grande criatividade, de grande trabalho, mas o público vai-se cansando deste ou daquele formato. A pessoa tem de mudar.
Isso acontece porquê? O público é pouco agradecido?
O público não é pouco agradecido, mas esquece com facilidade, o que não acontece noutros países. Por exemplo, no Brasil têm um grande culto por antigos artistas, estão permanentemente a prestar-lhes homenagens e a recordá-los. Em Portugal esquece-se tudo mais depressa. Mas não tenho nenhuma razão de queixa, pelo contrário; como tenho estado sempre em atividade, as pessoas não me esqueceram. Ainda hoje me cruzo na rua com pessoas que me acarinham muito. Acho o público adorável, são uns adoráveis mentirosos: dizem-me que estou cada vez melhor. São simpáticos, mas nós temos de nos convencer que aquilo é uma mentira piedosa.
Como é ser um jornalista sob os olhos da censura?
Como era um jornalista de desporto nunca senti muito a censura. Os únicos problemas que tive eram relativos à Académica, porque o poder na altura considerava que a Académica era um embrião revolucionário, do contra. Vou dizer uma barbaridade: a censura é uma coisa terrível, mas tinha algumas vantagens, obrigava-nos a puxar pela cabeça. “Como é que hei de dizer isto?” Como na revista, em que a crítica não era objetiva porque a censura não deixava. Escrever dava um gozo imenso. Conseguir furar essa teia provocava uma certa criatividade.
“O jornalista tem de ter alma”
O jornalismo hoje é diferente…
Agora faz-se um jornalismo em maior liberdade, o que às vezes é mais perigoso. Não há censura objetiva, mas há uma censura subjetiva muito complicada. As coisas evoluíram muito, a maneira de fazer jornalismo era outra. Mas as modernas tecnologias é que são realmente a grande diferença, sobretudo na rádio e na televisão. Eu fazia rádio sem condições. Conseguir por uma pessoa ao telefone a dialogar com o locutor da cabina era complicado porque as linhas eram más, ouvia-se ruído de fundo, não se ouviam as pessoas. Depois porque não havia a possibilidade que há hoje de se fazer em qualquer lado uma entrevista com um telemóvel. Os técnicos tinham de ligar o circuito telefónico e estender cabo com o microfone e, quando lá chegavam, às vezes já tinha acabado o acontecimento. Nos primeiros anos em que trabalhei na televisão não havia nem teleponto, nem registo magnético. Os programas eram todos em direto e não ficavam gravados. Os técnicos faziam maravilhas graças ao seu talento. Era tudo feito a “olhómetro”. A pessoa hoje tem uma ideia e a tecnologia resolve quase tudo.
Que conselhos daria a um jovem jornalista?
Primeiro tem de trabalhar. Tem de ser humilde, tem de tentar aprender com os que têm mais experiência. É preciso saber reconhecer os erros e sobretudo respeitar o público e respeitar-se a si próprio como profissional. E se verificar, ao fim de um ano ou dois anos, que as coisas não saem bem, mude o quanto antes. Perdi um ano ou dois porque me matriculei no Instituto Superior Técnico e, no fundo, não tinha vocação nenhuma para Engenharia. Fui para o Técnico porque tinha instalações para fazer desporto, tinha uma bela piscina, tinha um ringue de patinagem, tinha um grande salão para ginástica, para voleibol, basquetebol e ténis de mesa. E ao fim de um ano pensei: “Mas eu não gosto disto”. Se o trabalho não nos der prazer, não vale a pena. Mais um conselho: a máquina ajuda muito, mas não se deixem dominar por ela. Queremos qualquer coisa, vamos à internet, tiramos e dá menos trabalho, mas falta-lhe alma. O jornalista tem de ter alma, tem de fazer o seu jornalismo com amor, com profundidade, pondo o seu coração no que faz.
O que tem de ter um bom comunicador?
É uma coisa natural, que nasce connosco. Acho que nem é vaidade dizer que sinto que tenho capacidade de comunicação. Nasci assim, não fiz nada para isso. Também a podemos desenvolver, adaptá-la à área em que trabalhamos. O público varia muito, no teatro, por exemplo, varia de sessão para sessão, e nós temos de ir tateando.
Que projetos tem para o futuro?
Desde há muito tempo que não faço projetos. É muito bonito ter projetos, mas é muito triste não conseguir concretizá-los. Quando cheguei ao ponto em que toda a gente sabe o que posso fazer fico à espera que o projeto venha ter comigo. É preciso não ter pressa de chegar. Se formos devagar, chegamos com certeza.
Qual é o segredo da vitalidade?
A atividade. Estar ativo. Não parar. Tive esse benefício, como atuava em muitas áreas, havia sempre o que fazer. Agora, como tenho mais dificuldades físicas, ponho a cabeça a trabalhar, vou escrevendo…
Quando olha para trás sente saudades de alguma coisa?
As tertúlias acabaram e fazem falta. As pessoas encontravam-se e conversavam sobre tudo. Hoje há uma certa desumanização, as pessoas não comunicam, e, não comunicando, vão endurecendo a sua maneira de ser, perdendo a convivência, a entreajuda. É difícil criar-se um movimento cívico. As pessoas não querem saber. É o pagamento da fatura do progresso. Faz falta a troca de ideias.
Akadémicos 21 (29 de novembro de 2007)
Entrevista por: David Sineiro, Sara Vieira, David Sousa e Bruno Fernandes
* Artur Agostinho (25.12.1920-22.03.2011)