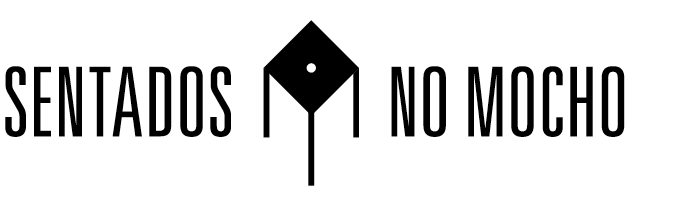Diana Andringa
Jornalista
Trocou a medicina pelo jornalismo. Passou pela imprensa, mas foi na reportagem em televisão e documentário que desenvolveu grande parte da sua carreira. ‘Sentada no Mocho’, Diana Andringa recorda algumas das suas estórias. Diz que o jornalismo de hoje sofre de precariedade e velocidade e aos jovens profissionais recomenda análise, contextualização e forte consciência.
Porque trocou a medicina pelo jornalismo?
Por várias razões. Desde pequena tinha jeito para escrever. Era o que eu sabia fazer melhor. Tinha quatro anos e bafejava os vidros para escrever neles. Gostava de inventar histórias. Embora o meu sonho fosse escrever livros, não era uma ideia de profissão. A medicina era a profissão que considerava com mais utilidade, sobretudo para quem, como eu, vem de África, onde havia muita malária e várias doenças endémicas para que era preciso lutar. Entrei com muito entusiasmo, mas foram acontecendo diversas coisas. Comecei a colaborar com as associações de estudantes. No dia 21 de janeiro de 1965 a PIDE prendeu cerca de 50 estudantes da academia de Lisboa, alguns de Coimbra, e até alguns liceais. Fiquei indignada e pensei “se o Governo pode mandar prender pessoas, se há uma polícia política, é porque as pessoas não sabem, porque se o povo soubesse não ia aceitar, portanto é preciso denunciar”. Foi então que fizemos o boletim de medicina. Entretanto chumbei a anatomia. Quando já estava praticamente decidida a sair, houve as inundações em Lisboa que mataram uma série de pessoas. Os jornais não o podiam noticiar. Quem fez a grande parte da assistência no terreno foram os estudantes, as associações de estudantes e a Juventude Universitária Católica. Fizemos, ao mesmo tempo, reportagens no terreno. A partir daí, soube logo que era aquilo que queria fazer, queria escrever e denunciar. Possivelmente fui melhor jornalista do que talvez seria boa médica.
Essa descoberta deu-lhe mais força para ser uma profissional exemplar?
Toda a vida fui treinada para ser o melhor possível. O natural era ser boa aluna e ter exigência connosco mesmos. Nasci em Angola, onde havia escola para brancos e para negros, as escolas era segregadas. Nessa altura, as professoras pediam para os meninos fazerem desenhos nos cadernos para ficarem mais bonitos e nós dávamos aqueles erros de quem escrevia com tinta permanente. A professora, um dia, para nos mostrar como nós éramos um desastre, mostrou-nos os cadernos dos meninos da escola negra – os cadernos eram lindos, limpíssimos, impecáveis – e ela disse «sabem, eles não se podem dar ao luxo de não estudar». Esta frase ficou-me na cabeça, esta estória de que a preguiça era um luxo. Procuro fazer o melhor que sei, não é em competição com os outros, é em competição comigo mesma.
Que memórias tem de Angola?
Ao início não tinha noção que vivia mergulhada naquele ambiente racista. Aos poucos, há coisas que começam a revelar. A minha família também me mostrava. Ao longo de toda a minha vida, a minha mãe só me deu dois pares de estalos. O primeiro foi quando eu, imitando o que via os outros meninos fazer, e também pelo mau feitio, de um pontapé num dos criados lá de casa. A minha mãe viu-me, agarrou-me, deu-me dois pares de estalos e disse «agora pedes imediatamente desculpa, o que é que pensas que estás a fazer?». De repente, percebi que uma coisa que parecia normal não era nada normal, porque para a minha mãe se zangar daquela maneira… Lembro-me que havia duas missas, a das sete horas para os negros e só depois para os brancos. Eu era profundamente católica e metia-me muita impressão – como é que alguém defende uma religião e depois é capaz de ser assim?
Ser mulher alguma vez lhe criou dificuldades em ambiente profissional?
Colocou, logo ao princípio, porque eu fui convidada a participar na revista Vida Mundial, não como jornalista – porque naquele tempo se pensava que as mulheres não tinham cérebro para ser jornalistas. Tive de entrar como tradutora e só passei para jornalista quando se renovou a direção. Há, depois, outras situações em que a questão se põe, por exemplo, quando se chega a chefe. Naquele tempo os homens não gostavam de ser chefiados por mulheres. Como dizia a Maria de Lurdes Pintassilgo, «é o mesmo que uma mulher a guiar, quando vai bem ninguém repara, assim que faz uma asneira, claro, era uma mulher!». A única vez que me disseram diretamente que eu não podia fazer algo por ser mulher foi quando veio a Lisboa um porta-aviões norte-americano e eles proporcionaram aos jornalistas uma aterragem. Depois houve coisas engraçadas como entrar no Afeganistão com a guerrilha islâmica. Tirando esses pormenores, de uma forma geral, não prejudicou. Acho que em certos aspetos o facto de se ser mulher pode ter ajudado, por exemplo, em entrevistas.
“O jornalismo de hoje sofre da
precariedade e da velocidade”
Presa pela PIDE, apercebe-se da importância da imagem quando apenas tem quatro paredes brancas em redor.
De repente és privada de tudo o que estavas habituada a ver e passas a ter imensas saudades de coisas de que nunca na vida pensaste vir a ter saudades. Eu tive a sorte de ter grades que davam sobre o Tejo, pior estavam os que estavam com vista para o muro. De repente, percebi que a imagem é mesmo muito importante. Ser privado de imagem perturba profundamente. Ficas quase fisicamente doente com a ausência da imagem. Por outro lado, depois dessa experiência, ouves as histórias de uma maneira completamente diferente. Acordou-me para a imagem e passei a prestar muito mais atenção às estórias que as pessoas têm para contar.
De que modo essas experiências tiveram influência na sua forma de fazer jornalismo?
Fiquei convencida da profundidade das pessoas. Aprendi bastante cedo a ver como as pessoas são ambivalentes. Por exemplo, nós tínhamos guardas e algumas colaboravam com a PIDE, por isso, desconfiávamos de todas por igual. E eu encontrei lá uma guarda que um dia me fez uma coisa extremamente simpática. E então percebe-se que o mundo é, felizmente, muito mais diverso, não é tudo tão claro ou óbvio. Todas estas contradições fazem com que se queira sempre tentar perceber mais. As pessoas são capazes de chorar num dia e torturar no dia seguinte, as pessoas são complexas. Muitas vezes, como jornalistas, pela pressa, reduzimos as coisas ao estereótipo, como se todas as coisas fossem planas, e não são. É a complexidade que é interessante encontrar – o tentar chegar àquela pessoa, revelar aquela pessoa. Mas coisas espontâneas levam muito tempo a conseguir. Para que uma pessoa se entregue numa entrevista tem de se criar uma relação com ela. A câmara tem uma grande importância… obriga as pessoas a revelarem a alma.
Um trabalho que a tenha marcado especialmente?
Eu gosto muito da “Geração de 60” – que é o meu patinho feio – que deve ter sido a coisa com mais críticas negativas e positivas. Reconheço que do ponto de vista estético não é um grande documentário, do ponto de vista jornalístico acho que foi extremamente importante na altura. Serviu para mostrar o que não era mostrado – houve dois militares pelo menos que me disseram «obrigado porque finalmente consegui chorar tudo o que não tinha conseguido chorar pela guerra colonial», porque eram pessoas que não conseguiam falar disso. Eu gosto de fazer filmes com pessoas dentro. Era muito criticada por estar sempre a pôr “cabeças falantes”. E eu costumo dizer que não conheço nada mais bonito do que uma pessoa inteligente a pensar, não conheço nenhuma imagem mais bonita.
E uma situação?
Há muitas. Há uma que deixou uma profunda marca. Provavelmente, mudou muito a maneira como olho para as coisas. Em 1979, foi muito falado nos jornais o caso de uma menina angolana que se suicidou. Descobriu-se nessa altura que era vítima de maus tratos. Antes de fazer a peça, fui falar com vários psiquiatras infantis para saber o que achavam sobre fazer uma peça acerca do suicídio de uma criança. Tentei rodear-me de todos os cuidados. Não mostrei nenhum retrato da menina. A menina ia fazer as compras e ia para a escola cheia de vergões e ninguém se metia nisso. A ideia era mostrar que todos somos cúmplices. A peça foi muito bem recebida por toda a gente. E eu fiquei descansada, achei que tinha sido socialmente útil. Um dia toca o telefone da redação. Atendi, e uma voz de homem disse «eu sou o filho da madrinha da Ana Maria, era só para dizer que a minha mãe se suicidou, a senhora deve ficar muito contente». Eu não sou juiz, sou jornalista. Obviamente não fiz aquele trabalho para a senhora se matar. Tive colegas que tinham identificado muito mais a senhora do que eu, mas aquele homem considerou-me a responsável pela morte da mãe. E essa noção para mim é muito clara – nós podemos matar pessoas com as palavras – e não temos noção nenhuma, usamos as palavras sem prestar atenção, deitamos abaixo pessoas sem provas nenhumas de que seja assim, fazem-se verdadeiras conspirações.
Qual é o papel do jornalista hoje em dia?
É o mesmo de sempre: é mostrar os males do mundo e as possibilidades de solução. É não se armar ele em importante, porque importantes são os outros. Acho que a missão é sempre a mesma – mudar o mundo para melhor, se conseguirmos. É não deixar as pessoas esquecerem, distraírem-se. O papel do jornalista é alertar, denunciar, mostrar, não permitindo que o mal permaneça silenciado. Depois, tem este papel extraordinário de contar estórias e de mostrar pessoas fantásticas, isso também é importante.
Como caracteriza o jornalismo de hoje?
O jornalismo de hoje sofre, acima de tudo, da precariedade e da velocidade. A questão da precariedade é extremamente importante, porque ninguém é livre sendo precário. Um jornalista tem de ter um contrato firme para saber que é livre dentro do seu órgão de imprensa, que não vai ser a todo o momento ameaçado. Um jornalista precário está nas mãos de todas as forças. Depois, é a questão da velocidade. Neste momento exige-se aos jornalistas uma velocidade que é incompatível com a reflexão. O jornalismo não é retrato a la minuta. O jornalismo tem de ser pensamento elaborado sobre as coisas, tem que ser fornecer às pessoas a informação sobre as coisas para que elas possam pensar e decidir – e isso não se faz com uma fotografia instantânea, tem que ser com contextualização.
Quais as três grandes qualidades de um jornalista?
Tens de te interessar pelas coisas. Depois, tens de ter empatia pelos outros seres humanos. Há que compreender e tentar compreender e não ver as outras pessoas como um mero estereótipo. Será bom que se saiba escrever extremamente bem, porque é preciso que o leitor tenha gosto em ler o que se escreve. Depois é preciso uma fortíssima consciência deontológica. E eu acho que o principal é mesmo seres um bom cidadão. Se fores um bom cidadão há coisas que nunca farás como jornalista. Que consciência social é que tu tens? Sem consciência social eu não percebo porque é que alguém quer ser jornalista.
Que conselhos deixa aos futuros jornalistas?
Que aprendam a dizer que não, além do mais, à facilidade, e depois às ordens idiotas. No caso das ordens idiotas, peçam inocentemente a ordem por escrito. Normalmente já não é repetida. À capacidade de descobrir, aliada ao interesse pelos seres humanos. E, talvez, ligarem um pouco menos ao Facebook e às novas tecnologias. Usá-las e não serem usados. Olhar e interrogar sempre a notícia, levar sempre mais fundo a análise. Não se pode ser herói todos os dias, mas é como a objetividade – não podemos ser totalmente objetivos, mas devemos tender para o sermos.
Akadémicos 63 (13 de março de 2014)
Entrevista por: Daniela Carmo