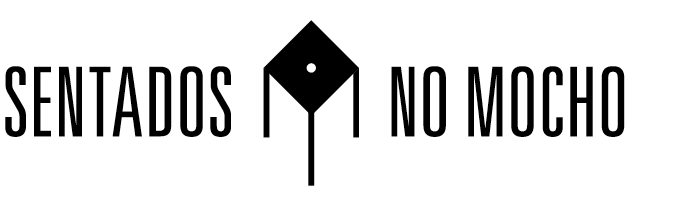Ricardo Dias Felner
Jornalista e Crítico gastronómico
Jornalista, crítico gastronómico e autor do blogue e do livro O Homem que comia tudo, Ricardo Dias Felner explica como surgiu o seu gosto pela área da gastronomia. Ao Akadémicos, dá conta dos desafios da crítica gastronómica, mas também deixa dicas para estudantes cozinheiros: como melhorar um bife ou cozer uma massa.
Crítico gastronómico e foodie assumido. Quando é que percebeu que tinha uma ligação especial com a comida?
Foi construída com o tempo. Foi na faculdade, em Coimbra. Foi aí que eu comecei a cozinhar. Na altura vivia com uns amigos que não cozinhavam ou cozinhavam muito mal. Então, se queria comer qualquer coisa mais decente e fugir às cantinas, tinha de ir ao supermercado e começar, eu próprio, a fazer as coisas. Rapidamente comecei a estudar um bocadinho mais as receitas e a fazer umas coisas mais sofisticadas, nada de especial. Mas foi assim, foi pela prática. Mais tarde, no jornal Público, era jornalista, cobria várias áreas, desde o crime, a justiça, emigração, e havia lá um crítico gastronómico, o David Lopes Ramos, que me começou a levar para os restaurantes e a ensinar muitas coisas sobre a gastronomia. Aí as coisas começaram a ficar um bocadinho mais sérias.
Há algum alimento ou prato de que não gostava em criança e que esteja agora entre os seus preferidos?
Há. Por exemplo, não gostava de feijão verde e muito menos de sopa de feijão verde e, hoje em dia, é das minhas preferidas. Faço aqui em casa e gosto bastante.
Os estudantes optam muitas vezes por comida simples, rápida e barata. Que sugestão deixaria aos estudantes para os livrar do ramen instantâneo?
O ramen instantâneo é difícil de substituir em casa. É um dos meus pratos favoritos, é verdade. É viciante. Mas um bom ramen leva mais de vinte e quatro horas a fazer, entre preparações, cozer os ossos do porco… porque aquele caldo mais denso e espesso é feito com ossos de porco muitas horas na panela. É muito difícil de fazer. Mas, por exemplo, uma das coisas que se fazia muito na faculdade onde eu era estudante era massa e más massas. Então a ideia é fazer na mesma massa, que é simples, rápido e barato, mas deixá-la cozer menos tempo e, eventualmente, não inventar muito com molhos, pôr só um bocadinho de alho, salsa, umas alcaparras, umas azeitonas e fica ótimo. Outra coisa que os estudantes gostam muito e que é rápido, mas nem sempre bem feito, é um bife, seja carne de vaca ou carne de porco. O problema é quando se deixa a água cozer a carne na frigideira. Então basta um truque, que é tirar a água a meio da preparação, quando estamos a fritar o bife. Tiramos aquela água que fica ali, escorremos e voltamos a aquecer muito a frigideira. Tem de estar bem quente, e voltamos a fritar. Entremeada de porco é provavelmente a coisa barata e rápida mais saborosa que eu conheço.
Temos no Politécnico muitos estudantes originários do Equador. Qual é a sua opinião sobre a cozinha latino-americana?
Tenho provado, sim, tenho provado alguma cozinha latino-americana, menos do que eu gostava. Mas a minha primeira experiência foi com cozinha do Guatemala. Não sei se já provaram alguma vez. Eu estava em casa de uma família da Guatemala em Londres, tinha lá ido estudar durante uns tempos, e durante uma semana comi pratos da Guatemala e adorei. Sou grande fã da maneira como eles misturam os pimentos, os feijões, as frutas, o picante. Sou grande fã de picante. Calculo que o Equador seja um bom sítio para comer picante. Não há cá nenhum bom restaurante equatoriano, pois não? Que pena, senão já lá estava.
Refere em nota biográfica que a sua carreira jornalística incluiu trabalhos sobre “bandos armados, José Sócrates, embargos de obras, nudistas e muitos outros temas pouco epicuristas”. Como é que, a partir daí, surgiu o foco na escrita gastronómica?
Há duas coisas que são comuns no jornalismo, seja ele gastronómico ou não, uma delas é a extrema curiosidade que eu tenho por conhecer coisas novas, sejam lugares ou sabores. Acho que o jornalista tem de ter essa sede de conhecimento. A maneira como abordo o jornalismo gastronómico é a maneira como abordo uma investigação ao José Sócrates. Se eu quero conhecer alguma coisa, encaro a coisa com seriedade e procuro conhecer todos os ângulos desse assunto, sobretudo nos artigos que faço para o Expresso. Tenho feito para o Expresso trabalhos mais longos, que me permitem ter essa disponibilidade. A outra coisa que é comum ao jornalismo generalista e à escrita gastronómica é escrever. Para escrever bem sobre comida, é preciso saber escrever bem e é preciso gostar de escrever.
“O grande problema é que muitas vezes se confunde
jornalismo gastronómico com posts do Instagram ou do Facebook”
Do seu blogue “O Homem que Comia Tudo”, que já deu origem ao livro com o mesmo nome, fica a questão: o que é que este homem ainda não comeu? Ou o que é que este homem não come?
Ainda não comi muita coisa e, de cada vez que leio mais e estudo mais esta área, percebo que há ainda tanta coisa por provar. Podemos pensar que uma seleção das melhores coisas vem ter contigo, porque as pessoas sabem que tu gostas desta área e fazem-te chegar comida, mas não é verdade. Estou constantemente a descobrir pratos novos incríveis, combinações de sabores incríveis, produtos incríveis, e essa é também a beleza desta área que parece não ter fim. Estamos sempre a ser surpreendidos por sabores novos.
A cozinha tradicional portuguesa ainda o surpreende?
Surpreende, não tanto como eu gostaria, porque há muito receituário tradicional que se vai perdendo, que vai saindo dos menus dos restaurantes, mesmo dos restaurantes de cozinha tradicional. Por razões diversas. Uma tem que ver com o facto de os produtos hoje em dia serem cada vez mais iguais. Ou seja, se eu sou agricultor vou produzir uma espécie específica de alface porque eu sei que é mais resistente, quem diz alfaces diz couves, e depois vou fazer a receita tradicional com uma couve que eventualmente já não é a original. Estou a dar um exemplo aleatório, mas esta é uma das razões pelas quais muito desse receituário se vai perdendo, porque os produtos também se vão uniformizando e se vão perdendo. A outra razão é porque as pessoas que faziam esse receituário vão morrendo e, lamentavelmente, a nossa edição de livros de cozinha é fraca, muito fraca, comparativamente com o que existe em inglês e noutros países.
A variedade da cozinha portuguesa é enorme e a da pastelaria ainda mais. Qual é o local onde não consegue passar sem trazer um doce regional?
Embora goste de doces, não sou tanto de doces como de salgados. Gosto, por exemplo, dos doces do Algarve com figo, alfarroba, aqueles queijinhos de figo. Obviamente gosto de toda a doçaria chamada, digo erradamente, conventual, que é muito à base de ovos e açúcar. Em geral a doçaria portuguesa é muito doce. Tem vindo a descer o nível de açúcar, modernizando-se no sentido de acompanhar a tendência da união europeia, que tem sobremesas mais leves e com menos doce. Mas também gosto dos ovos moles, gosto dessas coisas todas. E depois gosto daquela pastelaria tradicional de loja, a bola de Berlim, o pastel de nata. O pastel é realmente genial. Não é por acaso que se tornou um sucesso internacional: a conjugação da massa estaladiça com o interior cremoso. Come-se quase em duas dentadas. É um dos meus bolos favoritos.
No seu livro menciona: “Ser maluquinho da comida é uma doença crónica que se agrava quanto mais se come e mais se sabe sobre comida”. Consegue desligar o modo crítico e aproveitar uma refeição sem a tentação de a avaliar?
Para mim, não é um problema fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A minha crítica é uma crítica técnica às vezes, mas é sobretudo uma crítica de: ‘Estou a gostar de estar aqui neste restaurante ou não?’. Embora, para mim, seja sempre o mais importante numa crítica, muitas vezes a comida pode até nem ser incrível, mas o anfitrião do restaurante pode ser uma pessoa extremamente bem-disposta. O restaurante pode ter um ambiente a que eu acho muita graça. E, portanto, as críticas positivas são sítios onde eu naturalmente me sentiria bem como cliente. Outra coisa é dizer se eu gosto de ter de estar a esmiuçar com as pessoas que estão comigo ou com o dono do restaurante, ou com o chef, o que acabei de comer. Disso não gosto, de facto, e evito. No fim das refeições, às dez da noite, os chefs estão cansados, os cozinheiros estão cansados, os empregados estão cansados, não é a melhor altura para fazer uma crítica ou dizer mal de um prato. De maneira que não é para mim um problema ir como crítico. Tenho prazer à mesma. Normalmente vou com amigos ou pessoas de quem eu gosto. Outra coisa é estar ali a avaliar e a dizer o que é que estou a achar da refeição. Isso é uma coisa que eu faço depois, a posteriori, e é melhor assim.
À medida que foi ganhando notoriedade no ramo sentiu um tratamento diferenciado por parte dos restaurantes?
Sim, embora eu evite expor-me publicamente. Quando vou a um restaurante para fazer crítica, eu vou em modo anónimo. Ou seja, eu dou um nome falso, porque eu entendo que uma crítica só é rigorosa e minimamente isenta se nós nos fizermos passar pelo cliente normal. Se vou a um restaurante como jornalista de comida, e se o chef e os empregados sabem que eu vou nessa condição, é muito natural que eu não tenha uma experiência como tem um cliente normal. Se houver um erro na cozinha, que acontece muitas vezes, ou algum erro em algum prato, e se eu for um cliente normal, se calhar aquilo passa, se eu for um jornalista ou um crítico gastronómico, se calhar volta para trás.
Qual é que foi o seu maior desafio enquanto jornalista gastronómico?
Talvez tenha sido quando o editor do Expresso me pediu para fazer um artigo sobre o bacalhau. Penso que foi no ano passado. E eu fiquei extremamente assustado porque já foram escritos centenas de artigos sobre o bacalhau em Portugal, bons artigos escritos por bons jornalistas. Então fiquei a pensar: o que vou dizer mais sobre o bacalhau? Foi uma grande empreitada, de norte a sul do país, a experimentar alguns restaurantes clássicos de bacalhau. Fui às fábricas para conhecer como é feito o processo de cura e etc. Foi uma grande empreitada, essa. Bacalhau é aquela coisa que toda a gente conhece.
De que modo é que o ciberespaço, as redes sociais e em geral os novos media, têm influenciado o jornalismo gastronómico? Têm tido impacto?
Têm. Não diria que é uma coisa típica do jornalismo gastronómico. O grande problema é que muitas vezes se confunde jornalismo gastronómico com posts do Instagram ou do Facebook. Muitas vezes posts que são pagos pelas marcas ou restaurantes e de pessoas que não são jornalistas, são pessoas que escrevem sobre o assunto. Para quem lê, talvez muitas vezes haja essa confusão. Depois entro nesse grande grupo difícil de classificar de chamados influencers. Por exemplo, já tenho escrito a elogiar uma marca de azeites ou de vinhos, seja do que for, e depois um amigo meu ligar a dizer ‘Ah agora és patrocinado pela marca tal!’. Não sou. Simplesmente escrevi um post porque realmente gosto daquela marca de um azeite que eu comprei ou de um vinho que eu comprei com o meu dinheiro. Há muita confusão nessa área e calculo que, para quem queira guiar-se pelas redes sociais e perceber quem é que está a falar sem ter uma agenda escondida ou patrocínios escondidos, não seja fácil.
Já foi a algum restaurante com três estrelas Michelin? Se não, a qual gostaria de ir?
Três estrelas, curiosamente, acho que não. Gostava de ir ao Asador Etxebarri que eu julgo que não tem três estrelas Michelin. É um restaurante do País Basco que cozinha tudo com grelha. O próprio chef fabricou a sua grelha, ele próprio arranja a sua madeira para cozinhar os alimentos. É uma cozinha muito simples, com produto muito bom, muito fresco. É aquele sítio onde eu queria ir e irei brevemente.
Neste mês de dezembro, transformou a experiência da cozinha em reuniões digitais em modo supper club dedicadas ao picante. Como é que surgiu a ideia?
Bem, a ideia é muito simples, eu estava a fazer cursos de escrita e cultura gastronómica presenciais, mas, entretanto, com o COVID, decidimos deixar de fazer presencialmente e passar a fazer através do Zoom por conferência virtual. A malagueta é um assunto de que eu gosto muito. Como muito, há muito tempo. Comecei a estudar o assunto a fundo e achei que podia ser interessante, neste momento em que muita gente está aborrecida com as suas rotinas e com as suas comidas, ter alguma coisa que acelerasse os batimentos cardíacos e desse alguma emoção à nossa vivência muito caseira. Vai acontecer um na próxima semana e já esgotou. Em janeiro, vamos ter outra sessão com o mesmo tema. Vamos cozinhar em conjunto e, ao mesmo tempo, eu vou falando sobre picantes, molhos, pickles, pós, etc. Em fevereiro, vou fazer uma outra conferência através da internet, mas essa é só dedicada à escrita gastronómica.
Se soubesse que o mundo ia acabar amanhã, qual seria a sua última refeição?
É fácil, porque é a minha comida preferida. Eu sei que a como muito frequentemente, mas, nesse caso, eu capricharia. É bacalhau cozido com batatas, grão, couve e ovo cozido. Nessa última, eu teria assim um bacalhau topo de gama, com uma cura espetacular, couves acabadas de apanhar, ovos biológicos dos bons. Parece fácil, parece um prato extremamente simples, mas ter tudo a ir à mesa quente, com os pontos de cozedura ideais, o bacalhau bem demolhado, etc., não é fácil. Mas seria isso, bacalhau cozido. Estamos muito habituados ao que comíamos quando éramos pequenos e acontece muito isto: as coisas de que nós mais gostamos muitas vezes não são as mais sofisticadas, mas são aquelas que ficaram na memória, aqui numa gaveta para sempre. Em Leiria come-se tão bem, tem tantos restaurantes bons. É uma coisa impressionante. Não sei o que é que acontece aí nessa cidade, nessa região, mas eu sou grande fã da comida de Leiria. Até acabei de comprar umas morcelas de arroz, que é uma coisa que eu adoro comer quando vou aí.
Neste Natal que se prevê atípico, que prato típico não faltará na sua mesa?
Vou-me repetir, parece que só como bacalhau cozido. Mas, sim, vai ser bacalhau cozido. É sempre feito aqui, a preceito. Não há, e muito menos no Natal, bacalhau ultracongelado demolhado de fábrica. É tudo demolhado aqui em casa, que é completamente diferente. É preciso apenas aprender a demolhar. Para mim, é uma experiência completamente diferente ter o bacalhau demolhado. Roupa velha sempre, sempre. E é sempre uma competição para ver se fica melhor do que a do ano passado. Não sei se fica ou não, mas tenho a ideia de que, no final, dizem sempre: ‘Ah, esta está ainda melhor do que a do ano passado’.
Akadémicos 91 (17 de dezembro de 2020)
Entrevista por: Anícia Carvalho, Juan Figueroa, Luís Trujillo e Samuel Silva