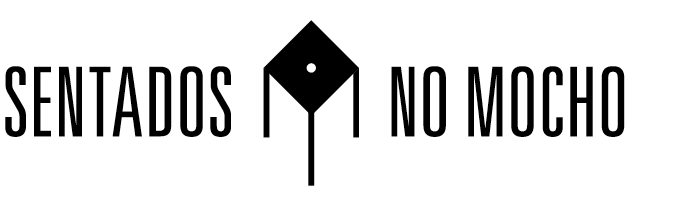Sofia Branco
Presidente do Sindicato dos Jornalistas
A luta pela igualdade entre homens e mulheres é algo que a motiva todos os dias. A escrita é a sua paixão. Autora do livro Mulheres e a Guerra Colonial e presidente do Sindicato de Jornalistas, Sofia Branco recorda o testemunho de quem sofreu com o conflito e desmistifica questões do jornalismo atual, assumindo uma atitude solidária perante os jovens que, nos dias de hoje, tentam entrar no setor.
Quais são para si os grandes desafios que enfrenta hoje o jornalismo? E como podem ser ultrapassados?
São tantos. A precariedade é um grande desafio porque cada vez mais se trabalha em condições cada vez menos seguras. Quando se tem menos segurança e menos conforto a trabalhar, menos liberdade se tem e a liberdade no jornalismo é muito importante. Hoje há muito menos acompanhamento dos jovens que entram no jornalismo, há pessoas a trabalhar nas redações que não conhecem o órgão de comunicação e não conhecem assuntos relacionados com o país. O facto de terem ali alguém ao lado que lhes explicava era importante e isso está a perder-se.
Quais os temas em que o jornalismo se vê mais desafiado?
Os do poder, embora eu ache que é mais difícil investigar assuntos relacionados com o poder económico. Ninguém foge muito daquele padrão que são hoje as notícias. Acho que a aposta devia ser na investigação, mas, apesar disso, quando é feita, é mais debruçada sobre o poder político. Os jornalistas, para além do esforço e do tempo que têm para despender numa investigação, têm de convencer os sítios onde trabalham que aquilo que estão a fazer também é importante. Muitos não estão para isso, o que é uma pena.
Como encarou este desafio a que se propôs de ser presidente do Sindicato dos Jornalistas? O que a motivou?
Eu acho que o sindicalismo é muito importante e acho que as pessoas hoje em dia têm uma ideia errada do sindicalismo. É como o feminismo e o facto de eu ser feminista. Já estou habituada a ideias pré-concebidas. O sindicato é pouco representativo [da classe]. Sendo otimista, um quarto estarão sindicalizados. Defendemos que é importante haver um coletivo, e ainda por cima é uma profissão em que as pessoas negoceiam os seus próprios contratos individualmente. Nós tentámos fazer uma lista de um grupo mais heterogéneo. Desde janeiro, conseguimos um número de sócios superior ao dos dois anos anteriores, e isso é importante. Eu acho que é pouco, gostávamos que mais gente se tivesse sindicalizado, nomeadamente jovens.
Existe imparcialidade no jornalismo?
Existe às vezes. Os jornalistas são pessoas e como tal não são objetivos. Sim, tens de ouvir todos os pontos de vista de um determinado assunto. Sim, tens de lhe dar voz. Mas também acho que pode e deve defender determinadas causas. O jornalismo defende liberdade, igualdade, diversidade e, portanto, é preciso equacionar certas questões. Se imparcialidade quer dizer olhar para os diferentes pontos da questão, não privilegiar um sobre o outro, isso obviamente deve existir. É uma luta todos os dias.
Escritora, jornalista na Agência Lusa e presidente do Sindicato. Com qual das atividades se sente mais realizada?
Escritora. Quando tu vais ler um livro e vais fazê-lo num tempo que não tens, dás muito de ti, e hoje o que sinto no jornalismo é que não há tempo para se dizer tudo aquilo que se devia dizer. O livro dá-te isso. Claro que demoras imenso tempo a fazê-lo. O último que fiz, As Mulheres e a Guerra Colonial, demorou dois anos. Mas depois, quando vês o livro nas tuas mãos, é uma realização muito grande. Também me sinto realizada com o jornalismo, é aquilo que eu faço diariamente e, dentro do que faço, há coisas de que gosto e coisas de que não gosto. E com os sindicatos é igual, há coisas que não podes mudar porque já lá tens pessoas a trabalhar há muito tempo, têm um historial.
Relembra alguma situação que tenha marcado, ao longo da sua carreira?
Uma investigação que fiz sobre mutilação genital feminina, quando estava a trabalhar no Público. Nunca tinha feito propriamente nada de grande envergadura, sempre pensei que no meu país a mutilação feminina era impossível. Na verdade, nunca encontrei uma resposta, mesmo hoje ainda não sabemos se aconteceu efetivamente em Portugal. Essa investigação foi feita por mim em silêncio, sem contar a ninguém, e acho que deve ser um exemplo. Quando eu fui entregar o trabalho ao diretor do Público, tinha sessenta mil caracteres. Na altura, ocupou sete páginas nos jornais e foi capa. Desencadeou mudanças na sociedade muito importantes, chegou a ser discutido inclusivamente no parlamento. Foi um trabalho muito premiado e acho que é revelador daquilo que um jornalista pode fazer individualmente.
“O jornalismo é um exercício
contínuo de reflexão”
Como é que o Sindicato dos Jornalistas encara a polémica em que o Correio da Manhã está envolvido, sobre não poder escrever sobre o caso José Sócrates?
Aquela decisão judicial de providência cautelar abre um precedente grave, independentemente daquilo que nós achamos ou deixamos de achar acerca do que o Correio da Manhã faz. Não cabe ao poder judicial limitar a liberdade de imprensa daquela maneira, porque o que eles estão a fazer é limitar a priori. Ou seja, antes de ser publicado já estão a dizer que não podem. O que nós achamos é que isso limita o direito e o poder de informar. Quando se publica alguma coisa sobre alguém, a pessoa envolvida tem meios judiciais para se processar o jornal, o jornalista, e portanto isso deve ser feito a posteriori. Acho que houve pouca solidariedade entre a comunicação social por ser o Correio da Manhã.
Qual a motivação que a levou a escrever o livro As Mulheres e a Guerra Colonial?
Fizemos alguns trabalhos longos na Lusa a propósito da guerra colonial e do 25 de Abril, sobre as independências, e eu entrevistei uma vez um amigo que escreveu um livro que falava sobre testemunhos em Moçambique, Guiné e Angola. Eram três palcos e havia sempre uma mulher enfermeira paraquedista em cada um dos palcos. Estranhei haver tão poucas mulheres e tantos homens e faltava-me um lado mais social quando se fala na guerra, que eu acho que as mulheres podiam dar. Assim surgiu a ideia, que depois foi sendo consolidada porque as mulheres contam mais histórias do quotidiano e conseguem ver o que é que a guerra mudou na vida das famílias. Para mim foi importante contrariar a regra.
Que tipo de obstáculos surgiram quando abraçou o projeto?
O contacto com elas foi mais fácil do que eu estava à espera, mas depois envolveu toda uma negociação. Há histórias em que foi fácil e elas quiseram mesmo contar, não fizeram nenhum tipo de exigências, mas há ouras que foram muito negociadas e eu achei que lhes devia isso. É a história delas que se vai transformar em livro. Há muitas mulheres que contariam a sua história com o marido ao lado e eu nunca quis nenhuma história contada assim, porque a iria condicionar muito. Invariavelmente, a primeira coisa que elas me diziam era «não tenho nada para lhe contar». As mulheres tendem a inviabilizar-se e têm pouco hábito de se colocarem no papel de protagonista, mas no final sentem-se bem por contar.
Revê as mulheres do tempo da guerra colonial nas mulheres da atualidade?
Sim, acho que a guerra teve um efeito interessante na emancipação da vida delas, mas as mulheres não são hoje emancipadas, ainda não têm igualdade de direitos. O que é mais crítico é que elas acham que têm. Acho isso preocupante, que se seja convencido que se tem. Os índices de violência, no namoro e doméstica, são assustadores. Sendo assim, não há igualdade de circunstância. Há igualdade na lei, o problema é na prática.
Encontra semelhanças entre o Portugal na guerra colonial e o Portugal da atualidade?
Mudou muita coisa, também era o tempo da ditadura e agora não é. Continua a haver a ideia do “respeitinho”, de não se questionar as coisas ou questionar muito pouco, apesar de hoje termos liberdade para o fazer.
O que é que fica, em si, das 49 mulheres que protagonizam o livro?
São todas histórias que eu nunca vou esquecer e, por outro lado, representam toda uma série de histórias que não estão lá. A ideia foi traçar um retrato que implicasse mulheres que com determinadas características que eu achava importantes e que na prática se confirmou nas pessoas que vinham falar comigo e diziam que se reviam ali.
As dificuldades que encontrou no início do seu percurso são idênticas às que os jovens de agora encontram? O que mudou?
Havia dificuldades, mas eu penso que hoje existam mais. Hoje faz-me muita confusão aquela coisa de andar a saltar de estágio em estágio, que é uma coisa que não acontecia na minha altura. Há um abuso em relação aos estagiários, são usados para fazerem determinados trabalhos que não lhes dão a competência e são muito pouco acompanhados. A precariedade é maior ainda e os novos jornalistas sentem-se reticentes em dizer aquilo que pensam. Se eu achava que era mau na minha altura, hoje é pior a não ser que as relações laborais se modifiquem.
Como vê a juventude de hoje?
Vive num tempo muito acelerado, é mais volátil, está mais suscetível a uma série de abusos e tem de arranjar formas de se autonomizar. Acho que tem de refletir sobre si própria, tal como todas as outras gerações anteriores, para perceber que caminhos é que tem de tomar. Eu acho que se está a tornar muito individualista e isso assusta.
Sabemos que a taxa de desemprego no setor da comunicação e jornalismo é elevada. Como é que explica o facto de, ainda assim, haver tanta gente a concorrer a estes cursos?
É extraordinário. É uma profissão interessante, há quem diga. Mas é uma profissão muito fantasiada, sobretudo pelo meio da televisão. O jornalismo é de facto uma profissão muito interessante, dá-te oportunidade de conhecer pessoas, de refletires sobre o mundo, dá alguma autonomia de escolheres sobre o que é que vais escrever. O jornalismo também tem muito poder e esse poder deve ser exercitado com responsabilidade, procurando a diversidade, como eu acho que falta. Há uma série de informações sobre a realidade de uma redação que não é transmitida e acho que vos faz falta esse tipo de esclarecimento.
Olhando para trás, sente que cumpriu todas as suas metas?
Todas não, ainda tenho muito mais para fazer. O jornalismo, para mim, é um exercício contínuo de reflexão e uma tentativa de mudar a sociedade para melhor, informando para que haja a capacidade de se tomarem decisões conscientemente. Para mim, esta tarefa não se esgota nunca. Eu acho que, quando se é jornalista, é-se jornalista para toda a vida. Talvez seja uma forma um pouco mais apaixonada de ver as coisas, mas não me vejo em nenhum outro papel.
Akadémicos 70 (19 de novembro de 2015)
Entrevista por: Inês André e Susana Silva